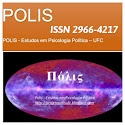THE FIRST Concepts of human rights emerge in medieval Mali
Los PRIMEROS conceptos de derechos humanos surgen en el Mali medieval
A análise minuciosa da Carta [Mandinga] demonstra que, para além de uma África objeto, estudada a partir de conceitos emprestados da historiografia europeia, existe uma África profunda que, inclusive, é uma África sobre a qual pouco se fala. Tanto é verdade que tem crescido o número de eventos na comunidade científica refletindo sobre novos paradigmas historiográficos e estudos relacionados à História da África. Talvez, em uma nova perspectiva, seja possível trazer uma interpretação mais cuidadosa sobre a cultura africana, livre de estereótipos e lugares comuns que, por vezes, engessam a compreensão sobre a dinâmica do continente. (A CARTA DE MANDEN, 2025)
A partir da perspectiva eurocentrista dominante é quase inimaginável se cogitar que houve algum dia qualquer preocupação em se elaborar uma constituição na qual se fundamentassem princípios de direitos humanos fora da Europa. Que tal tenha se organizado e efetivado em uma sociedade fora do hemisfério norte, em região remota, distante do “centro do mundo” e ainda anterior à Revolução Francesa seria praticamente inconcebível. Houve sim! As notícias de que no século XIII foi proclamada uma carta constituinte para que direitos humanos de diferentes grupos e populações fossem considerados e respeitados não são meras especulações.
A Revolução Francesa é considerada como um dos mais importante movimentos entre todos os movimentos revolucionários. Inspirada, principalmente, por ideais iluministas, seus pensadores influenciaram não apenas movimentos revolucionários, mas também a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” adotada pelas Nações Unidas em 1948 que, por seu turno, influenciou a criação de uma doutrina de direitos e garantias fundamentais para valer em diferentes regiões do planeta. A partir dessa vitoriosa Revolução popular se consolidou a base dos direitos humanos que, garantidos ao homem e ao cidadão, são desfrutados por diferentes povos até os dias atuais. (Compare: GONÇALVES, 2008).
Uma constituição do século XIII concebida no continente africano pode parecer, aos olhos da sociedade atual, distante do que hoje se conhece por legítima promoção de direitos humanos fundamentais. No entanto, considerando-se o período remoto de sua concepção, ela foi, sem dúvida, um avanço significativo no que se entende por preocupações com igualdade de direitos e deveres da população; um contraditório daquilo que se imagina para as sociedades africanas no período medieval e também do que se aplica à história da África. A carta surge em um período de consolidação de grandes impérios e reinos e de forte penetração do islamismo naquela região, o que redefiniu boa parte das relações entre os distintos reinos.
O império do Mali era culturalmente rico e notável pela sua abundância de recursos materiais, tanto aqueles extraídos do próprio território quanto os obtidos por meio do comércio e abrangia uma grande área da África Ocidental entre os séculos XIII e XVII d.C. Este império era composto por reinos e comunidades menores ao longo da região do Alto Rio Níger, unidos e estabelecidos por Sundiata Keita.** Embora haja alguma sobreposição em regiões geográficas e histórias semelhantes, o Império do Mali não deve ser confundido com o atual Mali, pois são dois lugares distintos. O Império do Mali é mais conhecido por suas prolíficas redes comerciais, desenvolvimento na educação, riqueza em ouro e sal e o estabelecimento e disseminação do islamismo na África Ocidental. (Compare: FERGUSON e WHITTEMORE, 2023).
A constituição a que se refere é a carta de Manden, também conhecida como a Carta Mandinga, Kurukan Fuga (ou Kouroukan Fouga, nome que se refere ao lugar onde a estrutura do Império do Mali foi estabelecida). Trata-se de uma declaração oral de direitos e leis desenvolvida no século XIII, que surgiu na região entre a Guiné moderna e o Mali (Manden), na bacia a norte do rio Níger, então parte do Império Mandingo, constituído por várias clãs e povos Malinke. A organização social básica desses grupos Mande era o kafu, uma comunidade que vivia próximo a uma cidade com casas de paredes de barro e governada por uma dinastia hereditária chamada “Fama”. O governante supremo, embora cercado por todo o esplêndido cerimonial da realeza africana, carregava o título militar de “Mansa”, (conquistador). Isso deixa claro que seu domínio poderia se expandir ou diminuir de acordo com o alcance de suas forças armadas. É difícil precisar a data da Carta de Manden por se tratar de um produto remanescente da história oral no continente africano. A Carta de Manden ou Carta de Kurukan Fuga aparece como um documento medieval e parcialmente como uma criação da modernidade. Algumas publicações afirmam que as duas são a mesma coisa, mas a Carta de Manden foi compilada a partir da história oral dos Mandinka e publicada em 1991. Seus compiladores alegaram que a tradição oral para a Carta de Manden datava de 1222, embora outros estudiosos acreditem que a data seja apenas imaginada, não comprovada, pois foi apresentada como um conjunto de leis ou uma constituição para o Império do Mali medieval. A Carta de Kurukan Fuga foi compilada a partir de histórias orais do Mali, Senegal e Guiné durante uma reunião no final da década de 1990 e reformatada para parecer uma constituição em 1998… Datada de 1236 foi atribuída a um imperador do Mali. Alguns estudiosos propõem que esses documentos contêm defesas dos direitos humanos, bem como outras noções modernas de liberdade; outros sugerem que os documentos comprovam atitudes contemporâneas em relação à liberdade humana que tinham os africanos do século XIII. Preocupações com a liberdade humana, que torna “o Mali medieval um dos inventores dos conceitos atuais sobre os direitos humanos e sobre os benignos proprietários de escravos do povo do Mali.” Vale a pena ressaltar a longevidade de sua vigência:
A Carta africana também registra fato histórico importante, isto é, permitia a livre circulação de homens e de bens no território mandinga, não somente na Era Sundjata (1235-1255), mas também durante o reinado do Mansa Souleymane (1341-1360), demonstrando quão longevo foi o período de validade da Carta Mandinga… Nesse sentido, é pertinente a crítica de Diana Taylor, ao observar que ocorreu a exclusão do saber de povos tradicionais a partir de uma negação da perfomance e da teatralidade como prática comum desses povos para a preservação e transmissão de saberes e conhecimentos. Assim, quando elege-se o arquivo como lugar legítimo de preservação da informação às gerações futuras, ocorre consequentemente um processo inverso que consiste em invalidar as fontes que fogem do poder do arquivo, como as de tradição oral e performances, nas quais saberes e filosofias são veiculados e preservados por meio de repertórios… conforme ocorreu com a Carta Mandinga. De certo modo, isso explica o silêncio da sociedade científica ocidental sobre temas dessa natureza, de tal sorte que a Carta Mandinga africana,de 1235 que produziu efeitos por mais de um século foi silenciada, ao passo que a Carta Magna, que vigorou por 10 semanas, é considerada um marco histórico dos chamados direitos fundamentais. (SOUZA, SOUZA, 2018, p. 176 e 178).
Gregory Mann (2022) defende “que o Juramento dos Caçadores [tanto o “Juramento dos Caçadores” como o mais conhecido “Kurukan Fuga” foram referidos como “a Carta Mande] deve ser desvinculado não apenas do Kurukan Fuga, mas também do império Mali e dos relatos históricos de sua fundação. Se as origens do Juramento remontam a cerca de sete séculos pode ser uma questão sem resposta, mas sua história como texto tem apenas algumas décadas.” (MANN, 2022, p. 131).
Nos tempos modernos, a Carta é mantida por meio de sua recontagem por griots, ou contadores de histórias/historiadores oficiais que foram encarregados de manter as tradições orais, “um campo de estudo e um método de coleta, preservação e interpretação das vozes e memórias de pessoas, comunidades e participantes de eventos passados”. Os griots foram fundamentais para a cultura Manden, que se tornou a cultura dominante da África Ocidental durante o período medieval posterior.
Pós-colonialidade e reparação cultural
Segundo Aníbal Quijano (2005, apud HAMA e PASQUARELLI, 2023), a colonialidade emerge do colonialismo moderno sob a lógica da matriz capitalista-colonial-moderna, que promove a extensão da noção de superioridade europeia perante a posição subalterna dos povos africanos, corroborando o domínio colonial sobre os patrimônios culturais africanos [tangíveis e intangíveis].
Desse modo, os traços do colonialismo na África não se extinguem com os processos de independência e descolonização da década de 1960, pois estes são perpetuados na relação de dominação ocidental europeia ainda presentes nas esferas intra e interestatais. Tal argumento comprova-se ao analisar os dados de aquisições africanas do Museu Branly-Jacques Chirac: em um período anterior à colonização de 1885 a coleção possuía menos de cem objetos africanos, enquanto que dentre os anos de 1885 e 1960 (período de conquista e ocupação colonial) a coleção passou a ter mais de 45.000 peças, seguido por adições de mais 20.000 peças nos anos de descolonização, posteriores à década de 1960, até alcançar o atual acervo de quase 70.000 peças (SARR; SAVOY, 2018. Apud HAMA e PASQUARELLI, 2023).
A recuperação do patrimônio material pode ser uma das vias para ressignificar a cultura depredada pelos invasores e colonizadores. Danos morais causados pela colonização e o estabelecimento de medidas necessárias pelos órgãos vigentes e instituições internacionais que promovam a restituição das propriedades roubadas corroboraram o pensamento pós-colonial de superação de formas de colonialidade. A repatriação determina sua função social atrelada aos valores culturais do patrimônio, essenciais para a condução do progresso e do desenvolvimento nas nações atingidas. (Compare: HAMA e PASQUARELLI, 2023). Por meio da recuperação do patrimônio tangível pode-se chegar, portanto, ao patrimônio intangível.
Como exposto por Bhabha (1998), um recurso diante da crise identitária em um contexto pós-colonial sustenta-se pela memorialização, de sua história anterior à colonização e à tragédia da escravidão, para que ocorra a construção de uma nova identidade, distinta dos padrões concebidos pela cultura colonizadora de identidade racial, mas consciente do passado que lhe foi tomado. Neste sentido, o propósito de repatriação cultural, fundamentada pelos valores históricos, sociais e culturais que o patrimônio cultural abrange, atua sob a perspectiva de uma reestruturação identitária, de maneira que os bens de herança cultural a serem restituídos promovem a reintegração das funções sociais em sua comunidade de origem (...) e representam um processo gradual de reapropriação histórica e de superação dos padrões etnocêntricos impostos pela colonização. Sob este pensamento, Hall fundamenta que "os movimentos de independência e pós-colonial, nos quais [as] histórias imperiais continuam a ser vivamente retalhadas, são necessariamente, portanto, momentos de luta cultural, de revisão e de reapropriação" (...) e, neste sentido, a restituição cultural atua como um instrumento de conversão da objetificação da cultura africana, permitindo que seus artefatos considerados "exóticos" presentes nas coleções europeias sejam convertidos em patrimônio dos povos que os produziram, restituindo a "identidade deste povo enquanto sujeito produtor de sua própria existência…” (HAMA e PASQUARELLI, 2023).
Há uma experiência recente no Brasil com a recuperação de um manto tupinambá que foi subtraído por europeus. Somente após uma batalha de restituição de patrimônio indígena, o manto tupinambá voltou a seus legítimos donos. Isso permite continuar uma luta para…
…manter vivas a cosmologia e herança cultural de um povo ao qual aquele manto pertence, os Tupinambás “que têm batalhado há décadas pela reestruturação de seu povo e demarcação de suas terras e estão entre os povos mais vilipendiados pela colonização. Além do genocídio, sofreram perdas e processos de urbanização em seus territórios. Situação esta que os levou, por vezes, a serem conhecidos e autodenominados como “caboclos” e “pardos”, uma dentre muitas das elaboradas estratégias de negociação e busca por evasão do sistema de extermínio e violência… Em 2006, usando uma fotografia do manto que está na Dinamarca, a cineasta Glicéria Tupinambá, conhecida como Célia Tupinambá e nomeada para representar o Brasil na Bienal de Veneza em 2024, buscou confeccionar uma réplica para presentear os Encantados do seu povo. Com apoio da sua comunidade na escuta atenta de seus integrantes mais velhos, a cineasta foi resgatando e aprendendo as técnicas de confecção do manto. A ação de Célia, para além de apontar maneiras de não depender de uma restituição, que por sua vez, é refém de um sistema aparelhado na burocracia institucional de herança colonial, devolveu a ela própria e ao seu povo algo muito maior e mais profundo, isto é, seu movimento demonstrou ser possível retomar um passado que está vivo no presente. (FARES, 2024).
Uma tentativa de reaver o patrimônio cultural para recuperar a cultura vilipendiada em tempos coloniais e sob tentativas de dizimação nos dias atuais. O devastador progresso moderno, uma espécie de “repetição da colonização” em território brasileiro, território colonizado como o africano, onde se destaca, a sua semelhança, o chamado colonialismo interno. Cunhado pelo sociólogo mexicano Casanova (2006), o colonialismo interno ocorre em Estados de origem colonial e imperialista, nos quais "suas classes dominantes [e seus agentes de controle] refazem e preservam as relações coloniais com minorias e grupos étnicos colonizados dentro de suas fronteiras políticas. Assim, a germinação do projeto iniciada pela invasão garantiu a continuidade do modelo de geni-epistemocídios” dessa vez, encampados pelos próprios colonizados. (HAMA e PASQUARELLI, 2023) O patrimônio cultural e as práticas culturais, espirituais e religiosas teriam o poder de promover benefícios às comunidades, quais sejam, “o fortalecimento de sua estrutura social, identidade cultural, vida cerimonial e comunitária, educação, desenvolvimento econômico e bem-estar na sociedade contemporânea e, acrescente-se, desenvolvimento de entidades políticas próprias. “…uma cultura nacional busca unificar seu patrimônio numa identidade cultural, para representá-lo como pertencendo à mesma e grande família nacional (Compare: HALL, 2002, p. 59). Essa premissa foi corroborada pelo Manifesto Cultural Pan Africano de 1969, o qual determina a cultura como um instrumento de força vital da nação e da união africana pelo desenvolvimento; é, a partir dessa concepção, que a identidade cultural integrada ao patrimônio cultural…
…permeia o espectro da construção social em uma comunidade nacional e configura-se então como essencial na formação de um pilar social nacional, vinculado à conjunção do tripé de Estado moderno que se constitui pela população, território e monopólio legítimo do uso da força. Por conseguinte, a atuação de restituição e preservação da herança cultural tangível atrelada ao senso de identidade nacional fundamenta-se como um instrumento essencial para a promoção do desenvolvimento nacional. (HAMA e PASQUARELLI, 2023).
No caso da Carta de Manden, muitos estudiosos modernos, compreensivelmente, consideram-na um exemplo pré-moderno de uma declaração de direitos humanos, especialmente porque ela discute os direitos de pessoas escravizadas, crianças e mulheres, e também deixa bem claro que a maioria das pessoas de uma determinada faixa etária deveria ter interesse na gestão da sociedade. Por outro lado, para públicos contemporâneos seriam desconhecidos para aquela população termos como "direitos humanos." Sem dúvida tinham fortes noções sobre direitos sociais e suas leis tendiam a enfatizar os direitos de comunidades de pessoas em vez de indivíduos. "As pessoas tinham direitos por meio de suas famílias, casamentos, ofícios e religiões”. (idem, p. 175-179). É indiscutível, no entanto, que estudos acerca da Carta Mandinga poderiam contribuir para se construir lentamente uma percepção de que “a África é possuidora de uma dinâmica própria, merecendo algo mais do que o nosso silêncio.” (SOUZA, 2018). Patrimônio intangível da cultura africana, a Carta de Manden foi preterida, ignorada e apagada pelos colonizadores.
A carta de Manden: O que traz seu conteúdo?
Ela traz a constituição da sociedade, direitos e deveres dos cidadãos, com artigos que levam em conta os papéis de gênero, lembrando diversas preocupações que seriam atuais em nossa sociedade. Nela havia aspirações para proteger e regular as relações econômicas, sociais e interpessoais, considerando princípios para a resolução de conflitos. Temas como roubo, assassinato, a forma de tratamento de grupos como mulheres ou pessoas escravizadas estavam previstos, bem como regras e punições para seus desvios. Com base no conteúdo da Carta de Manden é possível se apreender a lógica por trás da organização das sociedades na África medieval, o que seria um passo evolutivo em comparação com outras experiências acerca do mundo medieval do continente. Os desafios, as realidades e as aspirações dessas sociedades estavam presentes no “texto” da carta.
O Império do Mali
OS 44 ARTIGOS QUE FORMAM A CARTA
O texto inicia com o seguinte preâmbulo: O Manden se baseia na honestidade e no amor, na nobreza e na cooperação. Isso significa que nunca mais deve haver discriminação com base na ascendência no Mali. Este era o significado da nossa luta. Assim, os filhos de Sanènè e Kòntròn [também conhecidos como os caçadores] proclamam às quatorze partes do mundo e em nome de todos os Manden.
Artigo 1: A Grande Sociedade Mande é dividida em dezesseis clãs de carregadores de aljavas [coldre ou estojo sem tampa em que se guardavam e transportavam as setas, carregado nas costas e pendente do ombro], cinco clãs de “marabus”, quatro grupos de "nyamakalas" e um grupo de escravos. Cada um com atividade e um papel específicos.
Artigo 2: Os "nyamakalas" devem se dedicar a dizer a verdade aos chefes, ser seus conselheiros, defender, pela fala, os governantes estabelecidos e manter a ordem em todo o território.
Artigo 3: Os cinco clãs de “marabus” correspondem aos professores e educadores no Islã [uma espécie de sacerdotes muçulmanos, sábios detentores de conhecimentos da ordem espiritual]. Todos devem tratá-los com respeito e consideração.
Artigo 4º: A sociedade é dividida em faixas etárias. Os nascidos durante um período de três anos consecutivos pertencem à mesma faixa etária. Os membros da classe intermediária, entre jovens e idosos, devem ser convidados a participar da tomada de decisões importantes relativas à sociedade.
Artigo 5º: Toda pessoa tem direito à vida e à preservação da integridade física. Consequentemente, qualquer tentativa de privar outro ser da vida é punida com a morte (sic).
Artigo 6: Para vencer a batalha da prosperidade foi estabelecido o sistema geral de supervisão no intuito de combater a preguiça e a ociosidade.
Artigo 7: O sanankunya (relação de brincadeira) [Esse status "brincalhão" de relacionamento entre dois ou vários indivíduos tem uma longa e complexa tradição na África Ocidental] e o tanamannyonya (pacto de sangue) foram estabelecidos entre os Mandinka. Consequentemente, qualquer conflito que ocorra entre esses grupos não deve degenerar o respeito mútuo, que é a regra. Entre cunhados e cunhadas, entre avós e netos, a tolerância deve ser o princípio.
Artigo 8: A família Keïta é nomeada família reinante do império.
Artigo 9: A educação das crianças cabe a toda a sociedade. A autoridade paterna, por conseguinte, cabe a todos.
Artigo 10: Devemos oferecer condolências mutuamente.
Artigo 11: Quando sua esposa ou seu filho fugir, evite correr atrás deles na casa do vizinho.
Artigo 12: Sendo a sucessão patrilinear, nunca ceda o poder a um filho enquanto um dos irmãos de seu pai ainda estiver vivo. Nunca ceda o poder a um menor apenas porque ele possui bens.
Artigo 13: Nunca ofenda os Nyaras (os talentosos).
Artigo 14: Nunca ofenda as mulheres, nossas mães.
Artigo 15: Nunca bata em uma mulher casada antes que o marido dela tente corrigir o problema.
Artigo 16: As mulheres, além de suas ocupações cotidianas, devem estar associadas a todas as nossas gestões.
Artigo 17: Mentiras que duram 40 anos devem ser consideradas como verdades.
Artigo 18: Devemos respeitar a lei da primogenitura.
Artigo 19: Qualquer homem tem dois sogros: Devemos tratá-los com respeito e consideração.
Artigo 20: Não maltrate os escravos. [Escravidão era uma realidade]. Somos donos do escravo, mas não da bolsa que ele carrega.
Artigo 21: Não acompanheis com vossas atenções constantes as esposas do chefe, do vizinho, do marabu, do religioso, do amigo e do companheiro.
Artigo 22: A vaidade é sinal de fraqueza e a humildade, sinal de grandeza.
Artigo 23: Nunca traiam uns aos outros. Respeitem a palavra dada.
Artigo 24: Em Manden, não maltrate os estrangeiros.
Artigo 25: O embaixador não arrisca nada em Manden.
Artigo 26: O touro confiado aos seus cuidados não deverá liderar o curral.
Artigo 27: Uma menina pode ser dada em casamento logo após a puberdade, sem determinação de idade.
Artigo 28: Um jovem pode se casar aos 20 anos.
Artigo 29: O dote de 16 [Um dote refere-se a um presente de casamento] é fixado em 3 vacas: uma para a menina, duas para o pai e a mãe.
Artigo 30: Em Manden, o divórcio é tolerado por um dos seguintes motivos: impotência do marido, loucura de um dos cônjuges, incapacidade do marido de assumir as obrigações decorrentes do casamento. O divórcio deve ocorrer fora da aldeia.
Artigo 31: Devemos ajudar aqueles que estão em necessidade.
Sobre os bens
Artigo 32: Existem cinco maneiras de adquirir propriedade: compra, doação, permuta, trabalho e herança. Qualquer outra forma sem prova convincente é duvidosa.
Artigo 33: Qualquer objeto encontrado sem dono conhecido torna-se propriedade comum somente após quatro anos.
Artigo 34: A quarta novilha nascida é propriedade do responsável pela novilha. Um ovo em cada quatro é propriedade do responsável pela galinha poedeira.
Artigo 35: Um bovino deve ser trocado por quatro ovelhas ou quatro cabras.
Artigo 36: Satisfazer a fome não é roubo se você não levar nada na sua bolsa ou no seu bolso.
Preservação da Natureza
Artigo 37: Fakombè [a identidade de Fakombè é desconhecida] é nomeado chefe dos caçadores.
Artigo 38: Antes de atear fogo no arbusto, não olhe para o chão, levante a cabeça na direção do topo das árvores para ver se elas dão frutos ou flores.
Artigo 39: Os animais domésticos devem ser amarrados durante o cultivo e soltos após a colheita. O cão, o gato, o pato e as aves não estão sujeitos à medida.
Dispositivos Finais
Artigo 40: Respeitar o parentesco, o casamento e a vizinhança.
Artigo 41: Você pode matar o inimigo, mas não humilhá-lo.
Artigo 42: Em grandes assembleias, contentai-vos com os vossos representantes legais.
Artigo 43: Balla Fassèkè Kouyaté é nomeado chefe de cerimônias e principal mediador em Manden. [De acordo com a Epopéia de Sundiata, Balla Fassèkè Kouyaté era o griot de Sundiata Keita. Como griot do fundador do que mais tarde se tornaria o rico e poderoso Império do Mali, ele deve ter possuído alto status] Ele tem permissão para brincar com todos os grupos, priorizando a família real.
Artigo 44: Todos aqueles que transgredirem estas regras serão punidos. Todos são obrigados a fazer com que sejam cumpridas.
MANN (2022) alerta para as diferenças e omissões que se fazem perceber entre as diferentes versões e traduções acessíveis do texto. Para o autor, uma leitura atenta dos textos em Mandenkan pode revelar “que as duas versões [suas versões publicadas em Mandenkan, respectivamente de 2003 e 2008] coincidem em uma omissão significativa e deturpação do que o texto realmente diz. Vejamos, novamente, o que pode ser a passagem-chave do Juramento, conforme a publicação de 2003. Esta começa com "Donsolu ko", ou "os caçadores declaram”… Vejamos, portanto, uma tradução em inglês da versão francesa destas linhas:
“Os caçadores declaram:
A essência da escravidão se extingue hoje,
“De uma parede a outra”, de uma fronteira a outra do Manden; A captura de escravos é proibida a partir de hoje no Manden;
Os sofrimentos gerados por esses horrores cessam a partir de hoje no Manden.
Que provação é esse tormento!
Especialmente quando o oprimido não tem mais recurso. Que degradação é a escravidão!
Em nenhum lugar do mundo [sic].” (MANN, 2022, p. 138-139).
Essa aproximação daquilo que se convencionou chamar de direitos humanos ou direitos dos povos no Pacto de Kurukan Fuga foi uma espécie de carta de direitos do Império do Mali, fundado em 1235, pelo maghan (imperador) Sundjata Keita e pela Assembleia (Gbara) da comunidade manden. Segundo Souza (2018), em um momento de mudanças sociais e políticas, os caçadores manden (simbon), no século XI, engendraram um juramento para assegurar o bem-estar da sua comunidade. Dois séculos depois, o juramento, transmitido oralmente, inspirou a Carta Mandinga. Esse documento oral foi inscrito, em 2009, na Lista Representativa de Patrimônio Intangível da Humanidade da Unesco. (SOUZA, 2018).
Victor Martins de Souza (2018) afirma que:
A Carta Mandinga constitui-se como a radiografia de um tempo e de um espaço. As resoluções e conceitos por ela trazidos, bem como sua legitimidade, apoiam-se nas tradições orais, exigindo-se a intervenção e a manutenção contínua de membros da comunidade no ensejo de preservar a Carta e fazer valer a lei. A intenção, à época, era a de que esse contrato fosse partilhado por toda a comunidade, e que a palavra dita e a performance fossem constituídas não somente enquanto exercício de memória, mas também como imperativo, no sentido de honrar a palavra empenhada, como se observa no último Artigo 44: todos aqueles que infligirem estas regras serão punidos.
Segundo o mesmo autor, a Carta tem uma relevância para a identificação de uma outra África que, diferentemente daquilo que o “centro do mundo quer” é um continente que pode surpreender enquanto locus cultural, político, histórico e epistêmico:
O estudo da Carta Mandinga exemplifica e enuncia uma África pulsante, que não somente se insere na História, mas também a altera profundamente, constituindo-se, para usar um termo de Aimé Césaire, como uma “África múltipla e vertical circunscrita na tumultuosa peripécia com suas bolhas e seus nódulos”… Essa África sujeito é diferente daquela África a-histórica apontada por Hegel, pois ela se constitui como o lócus cultural, político, histórico e epistêmico a partir do qual surgiram grandes impérios e reinos do passado, como as dinastias egípcias, os reinos núbios, o Império Aksum, o Império cartaginês, o Império de Gana (Wagadu), o Reino Takrur e o próprio Império do Mali, a exemplo das suas respectivas formas de organização, seus espectros culturais, sua peculiar filosofia, sua forma de preservação do passado e seu sistema de lei sui generis, como o seu direito costumeiro. (SOUZA, 2018, P. 177).
A Carta de Manden, (Carta de Mandinga, de Kurukan Fuga ou Kouroukan Fouga) pode, portanto, ser considerada uma declaração oral de direitos e leis, ou seja, uma constituição do século XIII. A Proclamada por Sundiata Keita em Kurukan Fuga (Império Mali), essa “constituição oral” foi fundamental para estabelecer a base da organização social e jurídica daquele Império; promove uma defesa da paz social, da inviolabilidade do ser humano e de outras questões que em uma leitura atual são fundamentais para o convívio respeitoso em sociedade e para a promoção da dignidade humana. Essa “Constituição do Império do Mali” foi viabilizada após a vitória de Sundiata Keita sobre os Sossos em 1235 e, levando em conta sua data, antecipa-se a muitas outras experiências e tentativas de legislação semelhantes. Não por menos, a Carta foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural imaterial da humanidade.
NOTAS
* O texto se baseia em informações contidas nos quatro seguintes estudos teóricos:
I. A CARTA DE MANDEN. LibreText Huamanity. Disponível em: <https://human-libretexts-org.translate.goog/Courses/The_Westminster_Schools/The_Manden_Charter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc>. Acesso em: mai 2025.
II. SOUZA, V. M. de. A Aljava e o Arco: o que a África tem a dizer sobre Direitos Humanos — um estudo da Carta Mandinga. Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em História Social sob orientação da Prof. Dra. Maria Antonieta Martinez Antonacci. SÃO PAULO: 2018, p. 175-179.
III. GONÇALVES, B. T. R; BERGARA, P. N. dos S. A revolução francesa e seus reflexos nos direitos humanos. Etic-Encontro De Iniciação Científica, v. 4, n. 4, 2008. Disponível em: <http://intertemas.toledo prudente.edu.br/index.php/ETIC/ article/view/1718>. Acesso em: 21 jul 2022.
IV. MANN, G. The world won’t listen: The Mande “Hunters’ Oath” and Human Rights in translation. Humanity Journal: Edinburgh University Press, setembro, 2022.
** “Sundiata é provavelmente o épico africano mais conhecido, particularmente como representado na sua versão em prosa concisa, publicada pela primeira vez por D. T. Niane em 1960, um volume que ainda está em circulação. Recontado por historiadores orais ou griots (jeliw), o épico foi encenado, produzido, transcrito e traduzido em dezenas de versões. É central para a identidade coletiva dos povos de língua mande e para a narrativa nacional do Mali contemporâneo em particular. Alguns estudiosos acolhem o épico como uma história que descreve, ainda que com licença, pessoas e eventos reais. Outros são ambivalentes, e outros ainda o descartam quase inteiramente como uma fonte histórica, considerando-o como literatura. O cerne do épico pode ser reduzido a alguns episódios-chave, com pequenas variações: a disputa entre dois caçadores e uma anciã aflita que assume a forma de um búfalo; o nascimento da sobrinha dessa mulher e de um rei local de Sundiata, que sofre de uma maldição debilitante; A recuperação de Sundiata da maldição e seu exílio do reino do qual ele é herdeiro; o retorno de Sundiata e seu triunfo sobre Soumamarou Kanté, um rei ferreiro invasor; a conquista de Sundiata de um amplo império que se estende para o oeste até a costa atlântica;um encontro de Sundiata, seu griot e outros chefes, anciãos e luminares em um local conhecido como Kurukan Fuga, onde a estrutura do Império Mali foi estabelecida. Embora o épico de Sundiata tenha gerado um enorme corpus de textos, traduções e análises por si só, juntamente com uma miríade de interpretações, apenas duas coisas precisam nos deter aqui. Primeiro, apesar de sua recente proeminência, o episódio em Kurukan Fuga é frequentemente totalmente ocluído ou tratado de forma bastante sucinta, como um elemento conclusivo em uma narrativa muito longa.30 Especificamente, o texto contemporâneo agora conhecido como Kurukan Fuga ou “Carta Mande” está ausente do épico. Segundo, e mais significativamente, embora um par de caçadores seja fundamental para os primeiros episódios do épico, o Juramento dos Caçadores como tal aparece, até onde sei, em apenas uma versão dele: a de Youssouf Tata Cissé e Wâ Kamissoko. Lá, sua posição é bastante curiosa.” (MANN, G. The world won’t listen: The Mande “Hunters’ Oath” and Human Rights in translation. Humanity Journal: Edinburgh University Press, setembro, 2022., p 132-133).
REFERÊNCIAS
A CARTA DE MANDEN. LibreText Huamanity. Disponível em: <https://human-libretexts-org.translate.goog/Courses/The_Westminster_Schools/The_Manden_Charter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc>. Acesso em: mai 2025.
CASANOVA, P. G. El colonialismo interno. Sociologia de la explotación. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
FARES, K. A volta do manto tupinambá: restituição e colonialismo interno. C & América Latina. 7/02/2024. Disponível em: < https://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/the-return-of-the-tupinamba-cloak-restitution-and-internal-colonialism/>. Acesso em: mai 2025.
FERGUSON, A.; WHITTEMORE, J. O que é o Império do Mali. Disponível em: <https://study-com.translate.goog/learn/lesson/the-mali-empire.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc)>. Acesso em: mai 2025.
GONÇALVES, B. T. R; BERGARA, P. N. dos S. A revolução francesa e seus reflexos nos direitos humanos. S.P.: Revista Intertemas. Revista jurídica da Toledo de Presidente Prudente. Etic-Encontro De Iniciação Científica, v. 4, n. 4, 2008. Disponível em: <http://intertemas.toledo prudente.edu.br/index.php/ETIC/ article/view/1718>. Acesso em: 21 jul 2022.
HAMMA, S. B; PASQUARELLI, B. V. L. Pós-colonialidade e repatriação cultutral: Uma análise da diplomacia como forma de cooperação. Revista África e Africanidades. Rio de Janeiro. Ano XVI, ed. 47-48, ago. a nov. 2023.
MANN, G. The world won’t listen: The Mande “Hunters’ Oath” and Human Rights in translation. Humanity Journal: Edinburgh University Press, setembro, 2022.
SOUZA, V. M. de. A Aljava e o Arco: o que a África tem a dizer sobre Direitos Humanos — um estudo da Carta Mandinga. Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em História Social sob orientação da Prof. Dra. Maria Antonieta Martinez Antonacci. SÃO PAULO: 2018, p. 176 e 178.